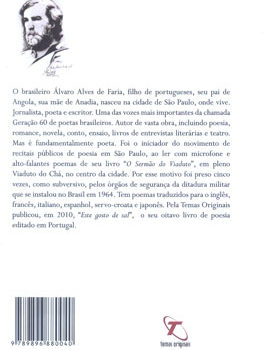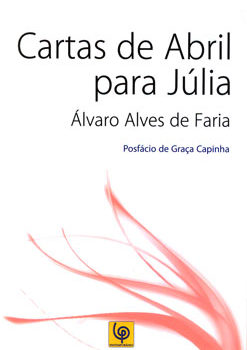Graça Capinha – (Ensaísta, doutorada em Literatura Norte-Americana, Professora do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas, Secção de Anglo-Americanos, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Portugal, onde também é Investigadora do Centro de Estudos Sociais).
Edição portuguesa
Edição brasileira
use um clique para aumentar as imagens.
CARTAS DE ABRIL PARA JÚLIA
Para uma poética do abandono:
encobrimentos e descobrimentos em Álvaro Alves de Faria
Palestra sobre “Cartas de Abril para realizada no Colóquio “Imagologias Ibéricas: Imagenes de la identidad y la alteridad em las relaciones luso-espanholas”, na Universidade de Extremadura, em Cáceres, na Espanha, no dia 1 de dezembro de 2010, sob o título “Quem é Júlia? – Imagens de Portugal e Espanha em Álvaro Alves de Faria”. Manteve-se o Português de Portugal.
* * *
Nesta sua última obra, Cartas de Abril para Júlia, também publicada em Portugal, o poeta Álvaro Alves de Faria explora a questão da presença/ausência – existencial, literária e linguística – através de uma personagem, Júlia, num romance pastoril em que os ecos de Cervantes, mas também de toda a grande tradição poética portuguesa (nomeadamente, de Pessoa), se fundem com o a que tenho vindo a chamar “a memória da memória” deste filho de emigrantes portugueses que, desde 1998, tem vindo a desenvolver um complexo diálogo poético com uma língua e uma literatura que é, simultaneamente, a sua e a do Outro.
No trabalho de crítica literária, que tenho vindo a realizar desde então, sobre a sua poética, tenho procurado sobretudo explorar a problemática identitária desta voz, considerando os traços que se prendem com uma situação – particularmente diferenciada no caso português, nomeadamente no que respeita à História partilhada por Portugal e Brasil – marcada pelo pós-colonialismo e pela vivência emigrante, uma situação que se oferece como vasto “campo aberto” (“open field”) a múltiplas e reveladoras construções literárias que emergem, rizomaticamente, de um processo permanente de desterritorialização, de nomadismo e errância, de incompletude e de descentramento. Além da teorização sociológica (em nomes como Boaventura de Sousa Santos, I. Wallerstein ou Stuart Hall), da poética (como no caso da teoria “open field” de Charles Olson e Robert Duncan) e/ou da filosofia da linguagem (em nomes como Deleuze e Guattari ou Jean-Jacques Lecercle) mais óbvias, tem-me sido particularmente útil, para pensar algumas das questões que encontro na poesia de Alves de Faria, o contributo de alguns poetas e teóricos/as norte-americanos/as contemporâneos/as associados/as àquele que é hoje considerado por muitos como o principal movimento poético de vanguarda norte-americano (com vários representantes já um pouco por todo o mundo), a L=A=N=G=U=A=G=E School, inaugurada em Nova Iorque no início da década de 70.
Começo, assim, por citar Rae Armantrout, uma poeta e teórica deste movimento, que afirma num dos seus textos: “A ventriloquia é a língua mãe”. (Armantrout, 2001: 56). Armantrout, tal como o vasto grupo de autores que se inscrevem nesta linha poética, tornam imediatamente clara a questão fundamental que permite o reconhecimento desta escola/movimento (e muitos destes autores e autoras continuam a recusar esse rótulo): a questão fundamental que os reúne é a sua constatação de que, enquanto poetas – enquanto fazedores do texto –, não podem eximir-se a uma reflexão sobre o poder, isto é, não podem eximir-se a uma reflexão sobre as políticas literárias contemporâneas e, mais do que isso, a uma reflexão sobre políticas de linguagem. De acordo com estes e estas poetas, reconhecendo o poder que a linguagem tem sobre nós – reconhecendo que a linguagem nos fala, e reconhecendo que aquilo a que chamamos “real” não é mais do que a uma construção social, uma ficção, que se fez hegemónica e que se naturalizou – ao poeta/à poeta cabe a responsabilidade de encontrar uma linguagem emancipatória, uma linguagem que recuse a “naturalidade” dessa língua-mãe que faz ventríloquos/as de todos/as nós. Para tal, a principal tarefa do/a poeta é a de se impedir de usar imagens reconhecíveis do mundo pois, ao oferecer a facilidade do reconhecimento dessas imagens, estariam apenas a legitimar a ordem desse mesmo mundo.
À afirmação de Armantrout poderíamos acrescentar a de uma outra poeta deste grupo, Lyn Hejinian, que afirma: “Já não podemos ignorar a ideologia, ela tornou-se numa linguagem lírica muito importante” (Lyn Hejinian, 1987: 113). Ou seja, a ideologia é o nosso discurso lírico.
Segundo estes autores e autoras L=A=N=G=U=A=G=E, os seus objectivos não vão além daqueles que o projecto modernista, da viragem do século XIX para o século XX, inaugurava perante as novas geografias e a revisão do conceito de tempo que o novo mundo industrializado produzira. Nessas geografias e nessa nova concepção de tempo se anunciava também uma nova imagem do humano. Virginia Woolf, por exemplo, assim o reconhecia, quando afirmava, no início do século passado, que nunca o ser humano estivera tão livre para criar essas novas imagens do mundo e de si próprio.
O problema, hoje em dia, e tal como Charles Bernstein, outro poeta L=A=N=G=U=A=G=E, reconhece, é que, depois de todas as descobertas científicas e tecnológicas que levaram à revisão de todas essas imagens do mundo e de nós próprios; hoje, depois de reconhecermos a impossibilidade de conseguir uma totalização do sujeito ou uma qualquer totalização discursiva; hoje, depois de aceitarmos a desordem, o caos, a fragmentação – como continuar a produzir conhecimento? Como continuar a produzir sentido(s)? (Bernstein, 1992) Como é possível que continuemos a ser meros ventríloquos e a repetir as mesmas imagens do mundo – como se nada tivesse acontecido? É por isto que, tenho que confessar, cada vez me espanto mais com a permanência dos modelos de representação da maior parte dos escritores do actual cânone literário de língua portuguesa – e é aí que, em meu entender e apesar de tudo, o Brasil se distingue positivamente.
Como continuar a produzir conhecimento? Como continuar a produzir sentido(s)? Como deixar de ser meros ventríloquos/as? Como fugir à lírica dominante? Como inaugurar linhas de fuga e, assim, fugir à linguagem dos senhores e dos mestres (para usar aqui a formulação de Deleuze e Guattari, quando falam de Kafka e da sua “literatura menor”)? Como reinventar as imagens do mundo que irão deslegitimar aquelas sobre as quais assenta a ordem hegemónica?
Este foi, e continua a ser, o grande desafio que as ciências e as artes do início do século XX nos deixaram. Um desafio ao qual urge – cada vez mais, como podemos perceber no actual estado a que o mundo chegou – responder. Este é o desafio que a escola L=A=N=G=U=A=G=E chama a si: porque é na linguagem e através da linguagem que aquilo a que Bernstein chama “a conspurcação do espaço público” acontece (Bernstein, 1992) – uma conspurcação que resulta, no seu dizer, das colheradas de anti-obstipante que aqueles que têm um acesso privilegiado aos media nos despejam diariamente pela goela abaixo (e veja-se este exemplo tão actual do escândalo Wikileaks e da perversidade da linguagem do poder instituído).
Mas é também na linguagem e através da linguagem que existe a possibilidade de criar estratégias – e continuo a usar a linguagem de Bernstein – estratégias de anti-absorpção, de impermeabilização e de reinvenção. Não se trata de atirar pedras, como se estivéssemos fora do processo (e, aqui, reside a crítica de Bernstein a Adorno, quando o filósofo alemão afirma que a mentira impera na linguagem do mundo moderno – como se a sua própria linguagem ficasse fora do quadro e, nessa impossibilidade, ter-se-ia de concluir que o que Adorno diz é também uma mentira). Trata-se de assumir que nos encontramos dentro e de que a “guerrilha é poética” (Bernstein, 1992), tratando-se antes de produzir uma implosão, de fazer esse trabalho a partir de dentro porque, quando se trata de linguagem, nada está fora ou cai para fora da construção. Não se trata de oferecer uma grande narrativa, mas de trabalhar à pequena escala – é isso que os poetas e as poetas podem fazer: produzir emissões societais que sejam despoluentes do espaço público (Bernstein, 1992). A sua existência, a existência do seu trabalho de experimentação com a linguagem, a pesquisa epistemológica que a procura de novas imagens significa – a sua simples presença – é só comparável, no dizer de Bernstein, à de uma árvore. Uma árvore não existe para dar sombra, mas oferece-a a quem se quiser aproximar – e com isso altera o sentido daquilo a que costumamos chamar “real”. Deste modo, a importância social e política da poesia, diz Bernstein, não se rege pelo mercado editorial, não se conta por número de leitores ou críticos e académicos. A importância social e política da poesia – e eu diria também, de toda a arte – é que ela nos ensina a fazer contas de forma diferente (Bernstein, 1992).
Se, como afirma Benedict Anderson – no seu já famoso livro sobre a invenção dos nacionalismos europeus do séc. XIX, um livro que leva por título Imagined Communities – se a base que sustenta a ordem social e política do mundo é, nada mais e nada menos, que meras comunidades imaginadas ao serviço de interesses de grupos económicos (Anderson, 1983), há que começar sempre por perguntar “quem imaginou”, “como se imaginou”, e “para que se imaginaram” essas comunidades, essas imagens?
Essa imaginação parte do que o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos chama “uma vasta teia de reciprocidades negadas”. O autor afirma que os Descobrimentos portugueses e espanhóis não significaram Descobrimento, mas um Encobrimento, uma vez que “quem descobre é descoberto” – e essa reciprocidade nunca existiu. É nessa ausência de reciprocidade que a modernidade ocidental se funda. Por isso, Boaventura de Sousa Santos define a nossa Modernidade como uma vasta teia de reciprocidades negadas: entre colonizador e colonizado, entre centro e periferias, entre branco e negro, entre homem e mulher, etc (Santos, 1993). Para lutar contra as imagens hegemónicas do mundo ocidental, imagens que decorrem desta teia de negações, Sousa Santos aposta no que chama uma hermenêutica diatópica contra a “monocultura do saber”. Isto significa que todas as culturas são incompletas e descentradas mas, imersos nos topoi de uma dada cultura, não nos damos conta disso, vivendo com a ilusão do centro. Quando, porém, nos deslocamos para os topoi de outra cultura, que não a nossa, damo-nos imediatamente conta deste descentramento e desta incompletude. Ou seja, para exercitarmos uma hermenêutica diatópica, temos de assentar um pé numa cultura e outro, noutra – e assim aumentar ao máximo a consciência da incompletude e do descentramento do nosso olhar e das imagens que ele nos oferece (Santos, 1994 & 1997).
Mais que diatópico, considero que este processo deve ser multitópico, assentando em processos de permanente desterritorialização e reterritorialização, assentando no nomadismo e na errância – é exactamente este o trabalho que os/as poetas e teóricos/as da L=A=N=G=U=A=G=E School desenvolvem, acreditando portanto que não é possível alterar conteúdos sem alterar a forma – que, como já se disse, não deve ser reconhecível. A sua crítica a muitos dos estudos multiculturais e às antologias de poesia a eles ligados é que, precisamente, só os poetas/as poetas que usam modelos de representação hegemónicos conseguem ser publicados/as e entrar no cânone. Contra a ventriloquia, há que exigir que haja um verdadeiro descobrimento do outro – aceitando que as imagens que descobrirmos serão sempre incompletas e descentradas (por muito que os homens sejam feministas, eles nunca saberão o que é ser uma mulher; por mais que reconheçamos a barbárie que a escravatura significou, nunca poderemos conhecer inteiramente o que significa ser um descendente de escravos; por mais que, vinda da raia, eu me sinta meia espanhola, por mais que eu estude a língua e a cultura espanholas, nunca poderei saber o que é verdadeiramente ser-se espanhola – haverá sempre uma dimensão dessa existência que me falta, que está incompleta, fora do centro). Tal como Emerson prescrevia, a poesia deverá portanto ser sempre aversão à conformidade – a nossa própria conformidade incluída. Porque, como Stuart Hall declara, em Questions of Cultural Identity, na esteira de Foucault e, mais remotamente, de Freud também, é na linguagem que construímos temporariamente as posições de sujeito em que ancoramos (Hall e Du Gay, 1996: 16). E, já agora, “posições de sujeito”, em inglês, “subject positions” significa simultaneamente “posições de sujeito” e “posições de sujeito-objecto”. Trata-se aqui também de dar ênfase ao facto de que as identidades são processos que assentam na multiplicidade proliferadora e na multivectorialidade – e que são sempre contextuais, ou seja, locais: a fazer-se, em devir, em processo nómada e rizomático; sempre num espaço de fronteira, que é, no universo simbólico norte-americano, uma espécie de desterritório: lugar do desconhecido, onde as leis que se conhecem não funcionam: lugar onde outras leis – da natureza e dos índios – se encontram e se chocam com as brancas europeias. De resto, a fronteira é uma metáfora usada por todos os autores que venho de referir.
É pois na errância – no seu duplo sentido, que implica nomadismo, mas também erro – que a guerrilha poética contra a ventriloquia tem que assentar. Trata-se de lidar com a violência da linguagem, de que nos fala o filósofo da linguagem francês Jean-Jacques Lecercle, uma vez que, ao recusarmos a ventriloquia, encontraremos um espaço de excesso (Lecercle, 1990). Quando abandonamos a ordem do sentido do código dominante, não é com o vazio que nos deparamos, mas com a infinitude de possibilidades de articulação – do ainda por provar, do improvável, mas também do reprovado – do não dito, do inaudito e do interdito. Há assim que errar, que gaguejar, que coxear na linguagem (Deleuze & Guattari, 1986) – para que novas formas, novas imagens, novos sentidos se nos deparem. Estamos aqui, claramente, fora de um qualquer modelo colaborativo de linguagem, antes se optando por um modelo agonista, que percebe que uma troca verbal assenta na necessidade e no exercício de poder de uma voz que se faz ouvir sobre a outra – e de como, nesse processo, que é um processo conflitual/agonista, haverá sempre vozes que não conseguirão fazer-se ouvir e que ficarão encobertas e invisíveis. Por isso, como diz Boaventura de Sousa Santos, de novo a chamar a atenção para os processos de descobrimento e encobrimento, teremos sempre o direito a reclamar a igualdade quando a diferença nos discrimina; mas teremos todo o direito a exigir o reconhecimento da nossa diferença, quando a igualdade nos apaga (Santos, 1997).
Foi no processo de estudar a poesia dos emigrantes portugueses nos EUA e no Brasil que todo este enquadramento foi surgindo e fazendo sentido.