“Um poeta brasileiro em Portugal” reúne uma parte de críticas e comentários sobre livros que tenho publicado em Portugal. O texto a seguir é uma entrevista feita comigo pela poeta Mariana Ianelli que serviu como prefácio. Nessa entrevista esclareço por inteiro o que penso atualmente sobre o Brasil e, particularmente sobre a poesia brasileira, sem generalizar, incluindo, também, o comportamento do chamado jornalismo cultural que, ao meu ver, não tem compromisso com nada. O livro foi editado conjuntamente pelas editoras “Temas Originais”, de Coimbra, e LetraSelvagem, de São Paulo.
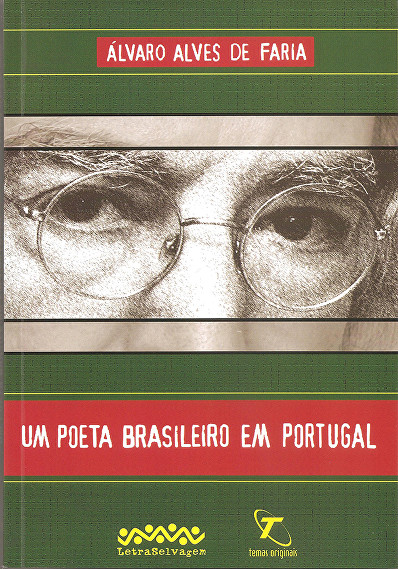
UM POETA BRASILEIRO EM PORTUGAL

Mariana Ianelli
Poeta, jornalista,
Mestre em Literatura e
Crtítica Literária pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Há quinze anos, Álvaro Alves de Faria começava a empreender sua viagem de retorno a Portugal, terra que está em seu sangue e na ascendência lírica de seus poemas, de onde se foi aproximando mais e mais enquanto se despedia de uma longa e aguerrida atuação no cenário da poesia brasileira. Este novo tempo da trajetória de Álvaro, dupla viagem através das distâncias e em profundidade, de criação e reminiscência, de morte e renascimento, erige-se desde o lado de lá do Atlântico, na Coimbra de Inês de Castro, na luz de julho refletida nos azulejos dos cafés de Lisboa, nas igrejas e nos pátios centenários de Idanha-a-Nova, nas aldeias e nas músicas tristes de um tocador de flauta.
Assente neste solo de histórias antiquíssimas, e ondeando na cadência do soneto, ou ritmado pelo mar em versos livres, Álvaro reúne já mais de uma dezena de livros, entre poesia e prosa poética, publicados em Portugal desde 1999. Tem sido ao longo desse redescobrimento de si e da palavra que o poeta vem colhendo a resposta da crítica ao seu trabalho. Esse é o fruto que amadurece na presente coletânea, não apenas o de uma partilha de memórias e culturas, mas, sobretudo, o deslindar de um processo que compete a nós, leitores, acolher, acolhendo assim parte da verdade e da emoção que impulsionaram o autor a se buscar mais longe, para além de sua própria decepção com os rumos da poesia, da política e do jornalismo cultural no Brasil.
Neste prefácio em forma de entrevista, Álvaro fala abertamente, com a firmeza que lhe é peculiar, sobre o motivo de existir deste livro, sobre o que pensa acerca da poesia brasileira contemporânea, e seus pastoreios líricos por aldeias portuguesas, seu amor por Camões, Fernando Pessoa, Sophia de Mello Breyner Andresen, Eugênio de Andrade, Cesário Verde, Antero de Quental, José Gomes Ferreira, José Régio, Florbela Espanca, Jorge de Sena e tantos outros poetas, além dos romancistas, sua aventura marítima enquanto poeta estrangeiro de si, entre São Paulo e Coimbra, entre o passado e o presente, e os projetos futuros, distantes das miragens da palavra, dos jogos verbais e do vazio, mas próximos, muito próximos do coração do poema. Sim, um rubro, vibrante, apaixonado e sofrido coração que jamais faltou a este poeta brasileiro em Portugal.
MARIANA IANELLI – “Um poeta brasileiro em Portugal” colige o melhor da fortuna crítica sobre seus livros publicados em Portugal ao longo de mais de uma década. Gostaria de que você falasse sobre a razão e o sentimento que o moveram a organizar este volume.
AAF – Mariana, reuni uma parte de todo esse material e resolvi colocá-la em um livro para que não ficasse disperso, perdido. E porque, também, representa o que de mais importante ocorreu na minha vida de poeta, essa opção pela poesia de Portugal, em dado momento, quando senti na pele que não tinha mais saída mesmo conviver com uma mediocridade amparada por um jornalismo “cultural” igualmente medíocre. Na verdade, deparei-me comigo mesmo em relação à poesia. O Brasil, infelizmente para todos nós, está mergulhado numa escuridão espantosa, com gente que mente descaradamente, gente que traiu a própria vida pelo poder, que deixou de lado tudo que se pregou por mais de vinte anos. Tudo foi esquecido. No poder, os valores são outros. Pelo poder, faz-se de tudo, até as coisas mais inescrupulosas que nunca ninguém poderia imagina, pelo menos eu, que sou um ingênuo. Claro que esse estado de mediocridade absoluta atinge também as artes, até porque (estamos em 2013), faz mais de dez anos que o país não tem ministro da Cultura. E, atingindo as artes, alcança a poesia, que é o caso que estamos abordando. A produção de poesia no país, de alguns anos para cá, é lastimável, descontando-se as exceções, é claro, que não sou ainda suficientemente louco para generalizar, e nunca generalizaria por não ser justo. Há poetas excelentes no Brasil, gente séria, gente que briga mesmo pela poesia, que faz seu trabalho distante do que existe atualmente, por aí. Você, por exemplo, Mariana Ianelli. Desde o começo, desde seu primeiro livro, você vem mantendo sua conduta digna diante da poesia, produzindo e publicando livros de poesia, na correta acepção da palavra. E como você, evidentemente, existem muitos poetas no país. Mas quase todos atirados ao limbo por um jornalismo indecente. Já me disseram que eu sou um ressentido. E daí? Não dá para suportar esse cenário melancólico. Gente séria não entra nesse circo. Voltando, decidi reunir uma parte de palestras, apresentações de livros, prefácios, entrevistas, para que esse material não se perca. E para que eu mesmo possa ver o resultado dessa opção pela poesia de Portugal. Foi como se eu regressasse à minha casa, a casa de meus pais, para escrever o que sentia. A mediocridade me assusta.
MI – Em Portugal renasce o poeta que, entre nós, brasileiros, sem constrangimento, se diz um ex-poeta, exilado dentro de seu país, porque há muito tempo já não encontra no Brasil uma poesia com a qual possa se identificar. Para além do quadro que se poderia pintar, hoje, da poesia brasileira, existe ainda o fato de a poesia, na acepção lírica do termo, ser muito pouco valorizada. Não espantaria que Sophia de Mello Breyner Andresen, se tivesse nascido brasileira, até hoje carecesse de reconhecimento. Queria saber de você, Álvaro, como podem resistir ativamente, como podem se fazer ouvir os poetas que ainda hoje no Brasil acreditam na poesia feita com fervor, com emoção, na “poesia como ética de vida”?
AAF – Não, Mariana, ainda encontro no Brasil uma poesia com a qual me identifico, poesia produzida por gente séria, por poetas de verdade, que lutam pela palavra. O que machuca é o tratamento que neste país se dá ao poeta e à poesia, pouco valorizada, como você diz cheia de razão. Em Portugal, renasci mesmo como poeta. Sou um ex-poeta brasileiro, dentro desse palco aí montado por alguns delinqüentes da palavra poética, que de poética não tem nada. Diante disso, sou mesmo um ex-poeta brasileiro, o que, entre nós, não tem significado nenhum. O que está acontecendo atualmente é uma espécie de confraria, de amigos que se reúnem e traçam os planos para a poesia, promovendo eventos entre eles, sempre os mesmos, como os donos de todos os rumos. Enganam-se, no entanto, porque existe algo que se chama processo histórico. E com a história verdadeira das coisas não se brinca. Mas a irresponsabilidade tomou conta de alguns, inclusive dentro da minha Geração, a dos anos 60, de São Paulo. Você fala em resistir, Mariana, e está certo. É mesmo preciso resistir, e isso se faz por meio do trabalho honesto. Trabalho consciente, fugindo da leviandade reinante que hoje domina grande parte do jornalismo e da universidade, que parecem ter donos, os proprietários de todas as verdades. Você cita Sophia de Mello Breyner Andresen, a grande poeta portuguesa. Por certo ela sofreria muito no Brasil ao ver esse cenário generoso às coisas medíocres. Sofreria como sofrem os poetas brasileiros que têm a poesia como verdade, como ética de vida mesmo, porque a poesia requer decência antes de tudo. A decência que deixou de existir. O que ainda existe de decência está escondido, guardado numa gaveta de constrangimentos. É preciso reafirmar que ainda é possível encontrar poesia no Brasil. Está difícil, mas ainda é possível. Uma poesia identificada com o homem, com a vida do homem, com os rumos das coisas, com a palavra construída honestamente, porque a poesia requer respeito pela palavra, pelo poema. As cenas atuais são melancólicas. Mas o que é mais é lamentável é a politicazinha literária de alguns, que interfere em quase tudo, numa mentira insuportável. Não dá mais para agüentar.
MI – Há alguma coisa de mágoa nisso?
AAF – Há sim, Mariana, porque existem pessoas e pessoas. A gente vai vendo esse cenário de melancolias e desonestidades e acaba por conhecer uma realidade brutal, pelo menos para mim. Acontecem coisas às vezes impossíveis de acreditar. Há mágoa sim, Mariana. Talvez porque eu ainda seja um camarada romântico. Não estou na poesia como aventureiro. Hoje é quase só marketing, sempre com a ressalva de que não estou generalizando. Para responder melhor, prefiro colocar nesta resposta um poema que escrevi e que nunca imaginei pudesse escrever um dia:
GERAÇÃO 60
Pertenço à Geração 60
de poetas de São Paulo,
mas graças a Deus
fugi para Portugal.
Tenho medo da quadrilha
que inventa outras histórias
com o retrato de Stálin
no bolso do casaco.
Fugi para Portugal.
Tenho medo
dos que apagam fotografias,
dos que inventam o que não existe,
dos que escondem
a palavra que se retira
e se cantam no carnaval brasileiro
louvando sempre a própria mentira.
Tenho medo dos bandidos
da política literária,
ainda sou pela poesia
da palavra libertária,
não a palavra que mente
sem a vírgula operária,
que toca música fúnebres
ceifando a vida da ária.
MI – O que parece prevalecer em suas paisagens poéticas, a exemplo das paisagens de pedras, sóis e luas, árvores e ovelhas de “O tocador de flauta”, apesar de todos os lamentos do poeta diante de coisas ausentes, diante da poesia inexistente num mundo em que “todos os poetas morreram”, é este lugar da simplicidade comovente, de músicas ao mesmo tempo antiquíssimas e presentes. Não mais se vê uma simples alusão a Cesário Verde ou um diálogo com Alberto Caeiro, senão que a voz de todos juntos aí reinaugura um mundo de harmonia. Como diz Carlos Felipe Moisés na bela introdução do livro, a afirmação do Álvaro poeta de que “a poesia morreu” é desmentida pelo brilho mesmo de seu universo. Assim, não será este lugar de aldeias entre montanhas mais real e palpável do que a aparente realidade de um tempo esquecido?
AAF – “O tocador de flauta”, que você cita, representa, para mim, toda essa trajetória que tenho seguido em Portugal, com suas imagens, aquele gosto da terra, que me invadiram quando escrevia o livro, tendo à minha frente o Alberto Caeiro de Fernando Pessoa, esse guardador de rebanhos que tem o significado de o guardador da poesia ainda possível. Tudo parece mesmo ter-se transformado num profundo lamento. Todos os poetas morreram. Refiro-me aos poetas que são verdadeiramente poetas e que respeitam a poesia como uma prece do homem, pelo homem. Sua pergunta, Mariana, pode ser uma afirmação minha, pelo que diz. Essa poesia de “O tocador de flauta”, como a de todos os outros livros portugueses, busca ser um mundo de harmonia poética dentro da própria poesia, o que não ocorre mais no Brasil. Sim, Cesário Verde, Alberto Caeiro e tantos outros poetas de Portugal e do Brasil reunidos num caminho, a andar de sandálias, talvez um cajado, a percorrer as aldeias que ainda existem, porque sempre haverá de existir a poesia. Você se refere ao prefácio desse livro de Carlos Felipe Moisés, no que diz respeito à minha palavra de que a poesia morreu. Morreu sim, infelizmente para todos. Morreu sim, nas mãos de alguns que reinam na cena literária brasileira, algo inaceitável entre os que respeitam a vida e a própria poesia. Morreu sim, porque não há saída diante dessa morte de todos os dias. Morreu, mas está viva nos que ainda acreditam. A aparente realidade de um tempo esquecido. Sim, Mariana, há um mundo mais real feito de aldeias atrás disso, que precisa ser cultivado pela poesia, desde que seja poesia séria. Na dá para seguir nessa aventura que nada tem a ver com a minha vida e com a minha poesia. Fui em busca dessas aldeias exatamente para poder melhor sentir o que é a poesia. Sei já que é uma ferida que não sara nunca. Mas tem de ser cuidada com zelo, para que não morram os poetas verdadeiros que ainda tentam respirar.
MI – Um dos mais tocantes e límpidos poemas que você já publicou em Portugal, a meu ver, é o “Livro de Sophia”. Nele também se estabelece, antes e para além de uma conversação íntima com a poética de Sophia, um compartilhamento da mesma luz, da mesma justeza das coisas que são criadas como se já existissem, como se já fossem parte intrínseca da Natureza. Mais uma vez, o poeta desmente brilhantemente a morte de Sophia ao invocar tudo o que perdura e ela amava: o mar, o vento, as conchas, a luz exata. Não está aí o exemplo máximo de que nos sobrevive, a nós e aos nossos desenganos, a palavra justa (e por isso necessária)?
AAF – Mariana, você utilizou a expressão mais clara: a palavra justa. A palavra justa, por exemplo, de Sophia de Mello Breyner Andresen, para citar apenas um nome da poesia de Portugal. Escrevi esse livro inteiro num único dia, em Lisboa, quando soube da notícia da morte de Sophia. Andei o dia inteiro escrevendo em todos os lugares que andei por Lisboa naquele dia. No meio da noite tinha o longo poema escrito, um livro. Senti na morte de Sophia o significado da poesia, principalmente estando lá, em Lisboa, acompanhando aquele cortejo de palavras que corria pelas ruas. Morreu Sophia. Foi como se me dissessem: morreu a poesia. E tinha mesmo morrido a poesia, aquela poesia que foi com ela, a quem ela serviu a vida, a palavra justa de seus poemas. E foi incrível, Sophia acabara de morrer mas estava mais vida que nunca em mim a percorrer as ruas de Lisboa com um caderno nas mãos. Quisera, Mariana, compartilhar da mesma luz de Sophia. Essa é a Natureza de todas as coisas que se querem verdadeiras, dentro do que se entende por poesia. O que falta, mesmo, Mariana, é essa palavra justa a que você se refere. A palavra poética que se descobre, que não se faz mecanicamente num pequeno jogo de letras. Hoje, no Brasil, é proibido falar-se em poesia de sentimento, de sentir, de saber que alguma coisa percorre o corpo e a alma antes de ser colocada no papel. Não. Não se pode mais falar mais nisso. Está proibido por aqueles que detêm o poder da poesia nesse cenário cada vez mais repugnante.
MI – Inevitável citar “A memória do pai” como um livro emblemático de um exílio que conduz a uma repatriação íntima e poética, um retorno às origens. Há sempre esta dualidade: de um lado, o desconhecimento do poeta em relação a si mesmo e ao que o rodeia, de outro, uma aproximação (duplo reencontro) ao fundo de si e a Portugal que o recebe como a um filho. Há igualmente uma dualidade nas distâncias e no silêncio, “como se ainda tudo estivesse por ser”. O que vejo, Álvaro, e gostaria que você comentasse, num panorama mais amplo, dos seus livros portugueses ao conjunto dessa obra, de seu simbólico exílio do Brasil ao reencontro com Portugal e com suas raízes de família, do silêncio à edição deste volume em ambos os países, é que aquilo que se mostrava como falta converte-se agora numa tarefa por ser, uma tarefa que cabe a nós, leitores brasileiros, realizar, diante deste seu longo caminho, ou seja, caminharmos nós mesmos para uma redescoberta da nossa memória literária e do legado da lírica portuguesa na nossa poesia.
AAF – Falar em legado lírico da poesia de Portugal na poesia brasileira é como dizer nada para muita gente que vaga por aí. Eu saí, sim, em minha descoberta. Mergulhei na memória da memória, como escreveu Graça Capinha, da Universidade de Coimbra. E me descobri e ainda estou a me descobrir mais, à medida que percorro essa poesia de Portugal que passou a fazer parte de minha vida. O exílio é algo que cultivo. Sou um exilado da poesia brasileira, embora seja brasileiro. Fui ao meu encontro no país de meus pais, onde estão todas as palavras de que necessito para escrever e sentir. Você fala na redescoberta de nossa memória literária. E você tem razão, Mariana. Redescobrir sempre. Buscar em todas as distâncias essa poesia que nos falta. Voltar no tempo. Veio-me agora ao pensamento, não sei dizer porque, Thomaz Antonio Gonzaga, com “Marília de Dirceu”. Surgiu-me agora, repentinamente, então faço questão de colocá-lo nesta resposta. Nossa memória literária, Mariana, da poesia verdadeira brasileira, essa memória está sendo apagada aos poucos, de maneira deprimente. Até os poetas chamados clássicos da poesia brasileira são hoje esquecidos em favor nem se sabe de quê ou de quem. Melhor dizendo: sabe-se sim, aqueles que estão preocupados em impor uma “poesia” ou um “poema” nada preocupado com os anseios da vida, das coisas todas que existem. Uma imposição até mesmo autoritária que hoje começa já na universidade, que parece cultivar a mediocridade no que diz respeito à poesia. “A memória do pai” foi mesmo um mergulho dentro de mim, na figura de meu pai, que vi sentado em Idanha-a-Nova, diante das casas de pedra, ao final da tarde, entre aqueles senhores e senhoras a contemplar a vida já perto do fim. Meu pai lá, a observar-me e aquela imensa emoção, sem papel para escrever. Escrevi o poema na cabeça e gravei as palavras para passá-lo ao papel muitas horas depois. Aí se mostrou a redescoberta de mim mesmo e da poesia que pretendo fazer, a volta às minhas origens, sim, onde vivo a intensidade da poética que a poesia exige, uma intensidade que está ligada à emoção. Mas também a palavra emoção está proibida na produção da poesia brasileira. O poema não pode ser emotivo, não pode ser sentimental. Não. Esse é determinantemente proibido pelos donos do poder e de toda literatura, aqueles que ditam as regras. O poema tem de ser frio, como queria e sempre desejou e sempre fez João Cabral de Melo Neto. Nada tenho a ver com João Cabral de Melo Neto. Fez uma poesia sem alma, de palavras sobre palavras, todas medidas com uma régua por alguns enaltecida, mas, por mim, não. Não mesmo. A poesia não é isso que ele determinou, ordem acatada por quase todos, entre os quais eu não me incluo. Fazer poesia não é fazer uma construção de concreto e ferro. Pode até ser, mas é preciso dar vida a essa construção, a esse concreto, a esse ferro. Nada me diz citar uma mulher de Sevilha. Citá-la, somente, como se tira uma fotografia desnecessária. Quero, sim, saber das pernas da mulher de Sevilha, do sexo da mulher de Sevilha, do suor da mulher de Sevilha. E assim é quase tudo na poesia de João Cabral, que não me interessa em quase nada. Cito exemplo para falar da proibição do poema que comove, do emotivo. É proibido, tudo é proibido nesta poesia brasileira de agora. Quanto mais longe da própria poesia, melhor. A emoção está proibida. A poesia há de ser uma peça gráfica que nada precisa dizer. Apenas um jogo de palavras. Eu me nego a isso.
MI – Foi muito bom você ter citado Graça Capinha, que desde o 3º Encontro Internacional de Poetas de Coimbra acompanha de perto sua trajetória. Entre outros textos sobre seus livros, ela assina o posfácio de “Cartas de Abril para Júlia”, um estudo valioso não somente sob o ponto de vista do diálogo entre as literaturas brasileira e portuguesa a partir de um compartilhamento histórico, mas especificamente quanto à leitura desta narrativa poética em que a Rainha de Argamasilha de Alba aparece como metáfora tanto da Poesia quanto da Língua e da História. Penso nessas cartas, e também em seus poemas, Álvaro, como “mapas de navegação” que fundam geografias de beleza e de dor. Mas não apenas isso, senão que o navegador e o pastor encarnam, ambos, o poeta, num contexto de muitas nuances culturais e históricas. Você mesmo lembrou há pouco as paisagens de pedra de Idanha-a-Nova, onde seu pai lhe surgiu na figura de um pastor. Queria que você falasse um pouco sobre esses diferentes estratos da cultura e da história portuguesa em sua obra, por exemplo, a morte de Inês de Castro em Coimbra, que inspirou seu livro “Inês”, e sua familiaridade com as canções medievais, ou a épica e a lírica camonianas, ou ainda, a presença de igrejas, mosteiros, anjos e santos em seus livros.
AAF– Comecemos pelo fim, que é sempre o melhor a fazer. A presença das igrejas, mosteiros, anjos e santos. Essa presença é real, não somente literária. É difícil explicar. Mas é real, pelo menos quando estou em Portugal, onde estão todos os meus antepassados, todas as almas que me pertenceram, todos os poemas que escrevi em vidas que não sei mais. A história de Inês conheço desde criança, contada pelos meus pais portugueses, com paixão, uma emoção que nunca vou esquecer, meu velho pai com sua palavra quieta a dizer-me coisas que só pude compreender depois que se foi, quando me ensinava a desenhar. Inês de Castro, que me inspirou esse livro que considero o que de melhor consegui escrever na vida, colocando-me na figura de Pedro e falando com Inês morta. Desculpem-me os senhores donos do reino, por utilizar a palavra “inspirou”, que não se pode usar, já que faz parte do que não existe mais, proibida que está pelos práticos da poesia, aqueles que juntam palavrinhas num jogo gráfico a que chamam “poema”. Inês sempre me habitou, suas canções, os poemas que a ela pertencem, seus pés no rio Mondego, suas mãos em aventais manchados de uva. Ao lançar o livro “Inês” na Quinta da Lágrimas, junto a Fonte dos Amores, em Coimbra, cheguei a duvidar que aquilo que estava ocorrendo fosse mesmo verdade. Eu ali, onde Inês foi morta, a Inês de Camões e de todos os poetas de Portugal. Por isso fiz questão de escrever sonetos metrificados com rimas camonianas, nesse ritmo que Camões colocou em seus sonetos, essa melodia que canta por dentro. Graça Capinha é uma mulher a quem devo tudo, esta trajetória de caminhos distantes, que me fez abrir os olhos para uma realidade poética que eu não conhecia. O Brasil não me basta mais. A amargura é grande, também fora da área literária, humana, de solidariedade, de generosidade. É uma terra de gente bruta, de acenos cortantes, de facas sempre prontas a cortar. Politicamente me sinto morto e traído, por tudo que fiz na vida, na ditadura, nos ferimentos, no sangue saindo da boca. Hoje eu me olho no espelho e me pergunto: Então foi para isto? Não sei a resposta, porque homens que traem a própria vida não me interessam mais, quero distância para sempre. Sou exilado de mim mesmo, não apenas do país onde nasci, numa rua Frei Caneca, na Maternidade São Paulo, quando as casas tinham ainda janelas azuis e pequenos jardins no quintal. Isso está distante, é uma fotografia na memória quase apagada do que fui e não sou mais. Nessa trajetória cheguei a “Cartas de Abril para Júlia”, em que atravesso a paisagem portuguesa e entro na linguagem da Espanha de Cervantes, D. Quixote de mim, como se isso me fosse possível. Mariana, esse tempo me fere. A poesia fere, quando não é uma aventura inconseqüente. A poesia abre feridas incuráveis, dessas que não fecham nunca mais, dessas que percorrem as horas, os dias, os anos, a vida, como um punhal que atravessa o corpo e o grito, a palavra e o silêncio. Isso acabou, Mariana. Esse sentimento da poesia não existe mais, pelo menos no Brasil, de onde preciso fugir urgentemente para não acabar com a vida num baque. É mesmo um desespero, como você deve estar pensando. É mesmo um desespero. Poesia é desespero, mas não pode ser desesperança. Tento ainda navegar, Mariana, como se fosse um pastor de ovelhas que nada compreende dos oceanos. Quero apenas ser um poeta que não precise lidar com leviandades e vaidades tolas de uma gente que nada sabe de poesia. Cansei dessas histórias. Quero entrar numa igreja de Coimbra e passar a tarde pensando e falando sozinho, como se fosse um monge que se perdeu. Mais nada.
MI – Álvaro, você foi bastante firme, como sempre, sobre o que pensa em relação aos que rechaçam o emotivo dentro da chamada poesia brasileira contemporânea. Aos que insistem em promover como poesia o que nada tem de poético, como você mesmo diz. Claro que “tricas literárias” existem em toda parte, não só no Brasil, a própria Sophia de Mello Andresen sabia reconhecê-las em seu meio (e as desprezava todas), mas entendo perfeitamente quando você fala que há entre nós uma poesia sem alma, respaldada pela mídia dentro da cultura do espetáculo. Concomitantemente a isso, vejo que, há pelo menos dez anos, têm surgido reflexões no campo da teoria literária e da filosofia acerca da necessidade de não perdermos de vista a beleza, o fervor, o sentido do inefável na poesia (Zagajewski, Todorov, Pépin). São reflexões que se desenvolvem fora do Brasil, evidentemente, mas que daqui a algum tempo devem começar a repercutir por aqui. Não acha que vale a pena confiar que amanhã teremos um cenário poeticamente mais gratificante em termos de beleza e de densidade emotiva? Parafraseando Hilda Hilst, não acha que, se a produção poética contemporânea conseguir ser suficientemente prosaica e antiepifância, isso irá provocar em nós uma nostalgia do esplendor?
AAF – Não acho não, Mariana. Não acho. A mediocridade está arraigada nesse carnaval de todos os dias, nos confetes coloridos que se jogam os ditadores desse espetáculo degradante. Odeio as facilidades e a mentira. Na poesia isso é inconcebível. O espetáculo atual é deprimente. É a louvação à completa ignorância das coisas. É a louvação ao que não existe, ao nada, a um vazio absoluto, descontando as raras exceções, será sempre preciso lembrar. Desprezo tudo isso, a exemplo de Sophia. Mas o desprezo não pode se mostrar somente em palavras, as que venho dizendo há algum tempo. Tem de haver atitude, a atitude de sair, de não pertencer mais. Espero que este cenário lamentável mude sim. Espero. Eu sempre esperei. A densidade emotiva, a que você se refere, tem as portas fechadas pelos que estão aí ditando regras de poesia, como sábios de uma sabedoria que tem gosto de estupidez. E isso não inclui somente a questão literária. Isso vai para a relação humana, infelizmente. Como escrever poemas diante e dentro de uma paisagem tão árida? Então escrevo sobre a aridez. Visitava muito Hilda Hilst, ela fumando sem parar com seu pequeno copo de vinho do Porto, mais de cinqüenta cachorros andando pela casa. Eu conheci de perto essa solidão, essa angústia. Tanto que fiz uma entrevista com ela sobre isso. Publicada, a entrevista teve muita repercussão. Ela mesma me disse que aquela entrevista tinha mudado muitas coisas na vida dela, como o aparecimento de uma grande editora. Hilda não lamentava os rumos dessa “poesia” imposta pelos impostores. Ela ria, mas um riso triste, aquele riso de uma pessoa triste, que tem vontade de quebrar tudo, de rasgar todos os poemas, todos os livros. Isso ela me disse com palavras quietas, quase um sussurro. Abraçava-me muito e dizia: “Ah, poeta! Ah, poeta!”. Eu sentia o tamanho do desencanto. E sentia porque esse desencanto também estava em mim há muito tempo. Não acredito em mudança não, Mariana. Ou melhor: vai demorar, até que essa desfaçatez se desfaça, desapareça de tudo e que a poesia verdadeira possa viver. Não faz muito tempo um desses “poetas” desse circo faleceu e eu escrevi a respeito. Mas escrevi o que sinto, que não sou de palavra pela metade. Respeitei o homem, evidentemente. Mas também escrevi que como “poeta” ajudou muito a destruir a poesia brasileira. O cenário é de escuridão. O país é uma escuridão completa. Uma escuridão de idéias, de pensamento. Eu sou mesmo um pobre romântico perdido entre as brumas de uma planície sem saída que deve terminar num abismo. As reflexões se desenvolvem mesmo fora do Brasil. Aqui não há lugar. Aqui há lugar para coisas vãs, coisas vis. Eu me nego a fazer parte desse jogo.
MI – Álvaro, você disse que se sente “politicamente morto” tendo passado por tudo o que passou, não somente no período da ditadura, mas também depois, no convívio humano com as pessoas dentro e fora da literatura. Você fala de acenos cortantes, de facas, de decepção. Então leio no seu Poema 28, do livro “Babel”, de 2007: “Não canto louvores a nenhuma revolução / não tenho bandeira alguma para hastear / (…) / Para mim todas as noites são iguais. / Mas em Portugal é diferente: / as aves que aqui gorjeiam / não gorjeiam como lá”. No poema 30, você se vê como um “daqueles poetas que já morreram / pedindo pela liberdade / quase sempre ferida a golpes perversos / da força e da crueldade”. No poema seguinte, do mesmo livro, também diz que a Poesia foi morta “por ferimento bruto / feito a punhal”. Isto que lhe dói, esta brutalidade, este desencantamento, a meu ver, é algo a que você responde com uma atitude poética total, não somente na palavra, mas antes com seu caráter. Não existe nessa atitude também um gesto político?
AAF – Sim, um gesto político. Principalmente político ou também político. Como queiram entender. A questão política no Brasil se transformou numa profunda decepção para mim, algo que não consigo aceitar e não aceito, especialmente a mudança no comportamento de pessoas que passaram a não merecer de mim qualquer respeito. São pessoas traidoras de si mesmas. Pessoas que traíram a própria vida pelo poder. O poder muda tudo. O poder transforma tudo. Tudo que se pregou por mais de 20 anos deixou de valer. Passou-se a fazer tudo que se combateu sempre. É um país sem vergonha na cara. O país não, o país não merece esse destino. Não suporto gente que muda de repente e pensa ser uma espécie de Deus de todas as coisas. A mediocridade também está aí, estende-se a praticamente todos os setores da vida brasileira. Para meu desespero, assisto ao que nunca imaginei pudesse assistir um dia em minha vida, com a redemocratização do país. Os ditadores estão em toda parte. Para mim não serve ditadura nenhuma, nem de esquerda nem de direita. Não serve. Sou pela liberdade, pela palavra, pela decência. O que se vê de algum tempo para cá é deplorável, cenas vergonhosas. Pelo menos eu sinto vergonha. Meu descrédito é total em relação aos políticos brasileiros, gente oportunista de todos os naipes, de todos os partidos. Contam-se nos dedos os que escapam desse cenário lastimável de mentiras. O Brasil é um país sem sorte. Eu me sinto traído. E volto a usar a palavra desespero. Eu me sinto traído por pessoas que mereceram minha confiança, com as quais convivi. A desfaçatez também tem um limite. Afinal, que país é este? Um país onde reina a mentira, de homens menores, pequenos demais para a existência. Que se julgam donos de tudo, que manobram sempre. Com isso tudo, aprendi a conhecer melhor o ser humano. Aprendi a conhecer melhor determinadas pessoas que eu tinha em grande apreço. Salvam-se poucos. Traidores, grandes traidores que esqueceram tudo. Discursos megalomaníacos. Salvadores não só do Brasil, mas do mundo. Então, diante disso, minha decepção é absoluta, irremediável. Não vejo futuro nenhum pela frente. É preciso arrebentar tudo. Pergunto: E onde entra a poesia nisso? Respondo: Entra nesse mesmo quadro de melancolias, na mediocridade escancarada. Explico: a arte pode ser a identidade de um povo, de um país. Então tudo tem de ser medíocre mesmo, se o país é medíocre, se quase tudo se mede pela mediocridade. Quanto aos poemas a que você se refere, Mariana, do meu livro “Babel”, eles revelam o beco em que cheguei, sem saída. Ou a gente se mata ou se deixa viver. São poemas que revelam não apenas o poema em si, mas a realidade do poeta, a realidade de quem ainda consegue pensar e ver as nuances, mesmo na plena escuridão de um tempo de negação e de mentiras.
MI – Álvaro, você poderia colocar trechos dos poemas de “Babel”, para dar uma idéia do que você está dizendo nesta entrevista, em um sentido poético, para revelar esse cenário que você descreve?
AAF – Sim, Mariana, concordo em colocar aqui trechos dos poemas de “Babel”.Os poemas podem falar melhor, porque são retratos que fiz de mim em um momento em que o desejo era parar com tudo e desaparecer no meu exílio existencial. Vamos colocar os três poemas que tão bem exprimem o que sinto, o que ainda consigo sentir:
POEMA 28
Não canto louvores a nenhuma revolução,
nem tenho bandeira alguma para hastear.
(…)
Queria ir mais vezes a Portugal
para poder limpar-me
do que não desejo mais.
Queria entardecer em Coimbra
ao bater de um sino qualquer
no início da noite.
Para mim todas as noites são iguais.
Mas em Portugal é diferente:
As aves que aqui gorjeiam
não gorjeiam como lá.
(…)
POEMA 30
Sou um poeta em via de extinção,
daqueles que acreditavam no sonho,
sobretudo na poesia.
Daqueles que utilizavam as palavras para escrever
e nesse exercício solitário deixavam que a vida
escorresse no poema.
Sou um poeta em extinção,
ridículo como uma carta de amor,
tipo que se emotiva à toa
a qualquer pretexto para sentir-se só.
(…)
POEMA 31
Quando morreu a Poesia
fazia uma tarde de Outono no Brasil
e Primavera em Portugal
dessas escuras tardes
em que as pálpebras
permanecem como se molhadas.
Fazia uma tarde qualquer
quando morreu a Poesia
não de morte natural
como foi noticiado
mas por ferimento bruto
feito a punhal.
(…)
MI – Álvaro, repito agora a pergunta que lhe fiz inicialmente…
AAF – Certo. Acredito que os poemas, mesmo em pequenos trechos, explicaram melhor. São poemas de dor. São poemas de despedida da poesia produzida atualmente neste país, com as exceções de sempre. Felizmente existem exceções. Sou um poeta em extinção, como diz o poema. E sou mesmo, porque uso emoção no poema, o que a nova ordem estabelecida proíbe, que se escreva um poema usando emoção. Não pode. Recorro a Gonçalves Dias, na sua “Canção do Exílio”, usando seus versos famosos brasileiros, para dizer que em minha terra não tem palmeiras e nenhum sabiá canta. Os sabiás morreram faz tempo. Morreram talvez com o próprio Gonçalves Dias. Recorro a esses versos, sobre as aves que gorjeiam, para falar da mentira de todos os dias. E aí eu incluo tudo, a poesia e a política também. Mas vamos ficar somente na poesia, porque a política enoja. Os homens da política enojam. Sou um poeta em extinção e faça questão de ser um poeta em extinção. Em extinção diante do quadro atual, não diante da poesia que é poesia e não um jogo de palavras diante da política literária comandada por alguns ungidos. Sou um poeta em extinção porque a palavra está proibida, o poema está proibido, a poesia está proibida. O poético é coisa do passado. Hoje somos todos modernos, “modernosos”, como diz minha amiga queria Lygia Fagundes Telles. Não tenho mais bandeira a hastear, Mariana, porque minha bandeira joguei fora, envergonhado. Não acredito mais. Eu acreditei muito, mas não acredito mais. Não tenho bandeira a hastear. Eu tenho, sim, um arame na boca. Não há mais palavras a dizer. A poesia não pertence mais à vida do homem. A poesia morreu mesmo. O poema que escrevi diz que foi numa tarde de outono, primavera em Portugal. Em vez das cores sombrias de um outono incerto, preferi as cores viva da primavera de Portugal. Da poesia pouco restou, somente algumas fotos envelhecidas. Morreu de ferimento bruto provocado pela irresponsabilidade de gente que não tem compromisso com nada. De gente que só faz marketing de uma poesia sem valor nenhum, mas que está nos suplementos culturais de um país que parece ter uma queda irresistível para o ridículo. Parece não, tem. Tem muita. A gente pega um suplemento desses que estão por aí, especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro, e pergunta: Mas essa gente está fazendo jornal para quem? Não se sabe. Os donos do poder na imprensa e nas universidades ditam as regras como verdadeiros reis. Os vassalos obedecem. Mas eu não tenho vocação para ser vassalo de nada. De nenhum reinado, de rei nenhum.
MI – Você diz que estes poemas de “Babel” são de despedida da poesia produzida no Brasil, Álvaro, mas já em seu “Sete anos de pastor”, publicado em Portugal dois anos antes, você escreve um belo poema para Carlos Felipe Moisés que começa justamente dizendo: “Escrevo amigo / em tom de despedida”. E mais adiante: “Fecharei a casa como se fosse viajar / apagarei a luz da sala / e lerei os poemas líricos de Camões / para não me afligir”. Creio que este poema, juntamente com seus sonetos, e um a um todos os seus livros portugueses formam uma trama fortíssima na qual a condição da ausência, da palavra que se cala, assim como os lamentos e as súplicas, são elementos próprios da composição dessa voz lírica, e toda sua mágoa, aí, se transmuda em criação, ou não é verdade que, quando o poeta escreve, sua dor é dor de ser, uma dor em que tantos de nós, poetas e leitores, nos reconhecemos? E agora me lembro da preciosa antologia “As pedras dos templários”, organizada por Graça Capinha, publicada na ocasião dos 800 anos de Idanha-a-Nova, em que você figura como único poeta brasileiro, abrindo o livro, com seus “Três sentimentos de Idanha-a-Nova” (que, cinco anos mais tarde, viriam a integrar sua nova coletânea em Portugal). Parece-me simbólica que esta sua solidão de poeta em extinção surja nessa antologia, “As pedras dos templários”, numa espécie de celebração positiva de um vínculo com seus pares, todos eles portugueses: Ana Luísa Amaral, Fernando Aguiar, Nuno Júdice e Vasco Graça Moura. Isso quer dizer que o poético, num sentido mais profundo do contemporâneo, atravessa todos os tempos e lugares, não?
AAF – Cuidado, querida Mariana, com a palavra “dor” que você colocou na sua pergunta. De acordo com os donos da cena literária brasileira, essa palavra não pode fazer parte de um poema e isso deve estender-se a uma entrevista como esta. Há muitas palavras proibidas pelos autoritários da poesia brasileira. Se um poema utilizar a palavra “coração”, por exemplo, esse poeta será taxado de louco, provavelmente. Lembre-se sempre, Mariana, que o cenário é outro, em que a emoção está proibida no poema. Estou cansado de aventuras inconsequentes. Fui para Portugal para conversar com Mário Cesariny, por exemplo. Para conversar com Nuno Júdice. Para conversar com Shopia de Mello Breyner Andresen. Fui a Portugal para conversar com Eugênio de Andrade, ao lado de Ferreira Gullar, a poesia clara, a poesia de um poeta que sente. Fui a Portugal para conversar com José Saramago, para tomar vinho com ele e conversar sobre um mundo que não serve mais. Fui a Portugal para conversar com poetas, muitos deles jovens poetas que sabem do seu ofício. Claro que também lá existem esses grupinhos que não sabem nada de nada. Mas os portugueses sabem separar bem essas coisas, essa inversão de valores que se vê no Brasil de maneira vergonhosa. O poema a que você se refere, que tem o nome de meu amigo Carlos Felipe Moisés no título, é sim uma carta de despedida dentro deste quadro lastimável. No poema, digo ao amigo que ainda lerei a lírica de Camões. É a maneira que encontrei para salvar-me, pelo menos naquele momento em que saio de mim, em que tenho pleno conhecimento de que nada vale a pena mesmo neste país em que nasci. Infelizmente, minha decepção atinge quase tudo. Nos livros portugueses, escrevi, sim, sonetos, dentro da métrica e da melodia de Portugal, com as palavras de Portugal, mais especialmente com as palavras de Camões e de Fernando Pessoa, especialmente Alberto Caeiro. Não como imitação. Pelo contrário, para sentir a poesia melhor, essa poesia que é assassinada todos os dias por alguns delinqüentes amparados pelos monarcas da poesia brasileira. A mágoa é própria das pessoas emotivas. Mas, atenção, Mariana, também é proibido ser emotivo na poesia do Brasil. Você lembra dos poemas de Idanha-a-Nova, do aniversário de Idanha, 800 anos. Fui convidado a ler meus poemas para um auditório repleto de gente interessada, ao lado dos poemas que você citou. Conversei mais sobre poesia, quase uma madrugada inteira, com Vasco Graça Moura. E também com Nuno Júdice. Tenho de admitir, por honestidade comigo mesmo, que essa conversa é muito diferente das que temos aqui, nas quais, quase sempre, impera a vaidade de alguns, a ponto de se inventarem histórias que não existem, um passando por cima do outro. Não existe espetáculo mais deprimente. Eu saí disso. Até mesmo quando publico meus livros no Brasil, em São Paulo, particularmente, procuro fazer um lançamento sem ostentação nenhuma. Sequer comunico aos chamados suplementos culturais. Não me interessa. O poético, Mariana, atravessa, sim, todos os tempos de lugares, desde que o poeta seja poeta mesmo, não um aventureiro incentivado por outros inconseqüentes, tudo com o amparo da mídia desonesta. Eles não sabem que existe algo chamado “processo histórico”, que um dia coloca todas as coisas no lugar. No Brasil deve ser assim também. Ou melhor, não tenho muita certeza, mas deve ser assim, já que é o que ocorre nos países civilizados. Mas não tenho certeza de que o Brasil está incluído nisso.
MI – Sim, Álvaro, há um processo histórico, há um tempo que nos obriga a ver novamente e ver melhor. Esta reunião de textos críticos, juntamente com sua poesia publicada em Portugal, contribui para esse olhar retrospectivo e esse juízo que é próprio do tempo. E os projetos futuros?
AAF – Os projetos futuros, Mariana, são os de continuar assim nessa trajetória que me propus seguir. Cada vez mais distante do que hoje se chama “poesia” brasileira, essa produção efêmera do nada, palavra de leviandade que não dá para suportar. É preciso ressalvar sempre que não generalizo. Existem poetas no país que sabem bem o que é e o que significa a poesia. Poetas que respeitam a poesia. Que escrevem poemas. Mas esses quase sempre se mantêm distante dessa festividade inaceitável, pelo menos para mim. Estou cansado de ver essa mídia medíocre inventar nomes de “poetas” da noite para o dia, que desaparecem do dia para a noite. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Mas chegou-se ao insuportável. O país está insuportável. Acredito, sim, no chamado processo histórico, mas, sinceramente, sinceramente mesmo, não sei se isso funciona no Brasil. O que também não estou muito interessado em saber. O que existe é uma profunda decepção. Indignação com o rumo das coisas. E isso implica em quase tudo. Os projetos futuros estão dentro desse pensamento, da minha opção por fugir. O projeto futuro é ser honesto comigo mesmo e com a poesia que escrevo. Distante do que não me serve, distante da mentira. Para terminar, Mariana, reproduzo um poema do livro “Alma aflita”, já publicado em Portugal, que fala do que sinto e no que ainda acredito. Chama-se “Os poetas mortos”, em que procuro descrever esse desencanto que passou a fazer parte de mim diante dessa ruína cada vez mais evidente.
Os poetas não morreram
como eu pensava:
ainda existem uns três ou quatro
que observo de longe,
como se não acreditasse.
Não morreram como eu pensava.
Uns poucos ainda colhem as águas das chuvas
a molhar os pés e a roupa nas poças.
Ainda escrevem poemas com as palavras,
deixam-se sentir o que da poesia se sente,
como se a tomar um café em Coimbra,
lendo um jornal antigo
que fala de um mundo que não interessa mais.
Ainda existem, uns quatro ou cinco,
ainda existem a andar sapatos perdidos
nos rumos que faltam,
a percorrer lugares que afligem.
Os poetas não morreram
como eu pensava:
ainda existem uns seis ou sete,
que conversam com as abelhas,
com os pássaros feridos,
como se fossem eles mesmos
essa ave que não voa mais.
Uns oito ou nove, ainda existem.
Ainda existem na cicatriz dos dedos,
no poema que se escreve com a última palavra.
Ainda existem, quem sabe quinze, dezesseis.
Ainda existem poetas,
não morreram como eu pensava,
alguns raros que se desfazem aos poucos.
Talvez dezenove ou vinte,
que fazem da poesia sua prece,
poetas que ainda sentem
a viver silêncios na quermesse.
Ainda existem,
uns três ou quatro.






