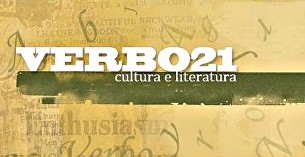
Ano 12, número 150, janeiro 2012
Álvaro Alves de Faria: um romântico do século 18

O poeta em Lisboa, vendo-se o rio Tejo ao fundo
Em cinco décadas de intensa vida literária, Álvaro Alves de Faria tem se dedicado especialmente à poesia, mas também ao conto, ao romance, à dramaturgia e à crítica lierária, com cerca de 50 livros publicados. E paralelamente, ao jornalismo, que exerce desde os 17 anos.
Figura destacada na resistência à ditadura militar de 64; duas vezes laureado com o Prêmio Jabuti, teve sua novela “O tribunal” levada ao cinema, em 2001, como o título “Onde os poetas morrem primeiro”.
Sua obra tem merecido estudos de importantes nomes de nossa crítica, como Affonso Romano de Sant’Anna, Carlos Nejar, Antonio Carlos Secchin e Carlos Felipe Moisés. E desde os anos 90, vem estreitando os laços com Portugal e sua tradição literária, tema de seu livro mais recente, “O tocador de flauta”.
ÁLVARO ALVES DE FARIA
entrevistado por
Angelo Mendes Corrêa
O livro ”O tocador de flauta” revela que seu envolvimento com a poesia de Portugal se acentuou ainda mais ao longo de uma trajetória que começou em 1999, com “Vinte poemas quase líricos e algumas canções para Coimbra”. E nesse caso particular, detendo-se em Fernando Pessoa, com uma releitura de “O Guardador de Rebanhos”, de Alberto Caeiro, percorrendo a mesma paisagem de uma narrativa cada vez mais viva na poesia de Portugal. Qual o significado desse livro para você?
O significado é o de absoluta abrangência ao trabalho que venho desenvolvendo na minha obra poética. A busca da poesia portuguesa me fez redescobrir a poesia que julgava perdida. Está perdida. Mas não em Portugal. Lá encontrei as palavras. O poema. A música do poema. O mergulho em Alberto Caeiro, utilizando inclusive versos inteiros de “O Guardador de Rebanhos”, é um encontro comigo mesmo, como homem e como poeta, elaborador de poemas, construtor da possibilidade do sonho. Fernando Pessoa continua sendo, para mim, o que representou para a Geração 60 de poetas de São Paulo. E Alberto Caeiro, em especial, é o caminhante dessa poesia que almejo, que sempre almejei e que só encontrei de fato quando desisti de muitas coisas no Brasil, este grande vale de lágrimas, de uma penúria literária que não tem fim, descontando as exceções que existem. “O tocador de flauta” representa em minha poesia um salto existencial e também poético. É um livro que teve um longo período para ser construído, palavra por palavra, relendo sempre Caeiro, esse pastor em que também me transformei dentro do poema, da narrativa poética que sempre desejei. Eu chego a pensar que a poesia ainda existe. Basta procurar. Basta empreender esse voo tantas vezes solitário de ferimentos. Vejo nesse livro mais um degrau que consigo vencer, um caminho que tento reconstruir em mim mesmo. Tenho a impressão que ainda sou um poeta, mas não tenho certeza. O que me dá ainda algum alento é a poesia de Portugal, desde Camões, passando por Pessoa e tantos outros poetas que souberam o significado da poesia e respeitaram a poesia como a poesia deve ser respeitada.

O que é esse respeito? A que você se refere?
É sempre difícil falar sobre isso. Nem todos compreendem a seriedade que a poesia exige dos poetas que são poetas de verdade. O que se vê na poesia brasileira nos últimos anos é um cenário lastimável, infelizmente. Mas, pior que isso, é o amparo que essa péssima poesia tem na chamada imprensa cultural, um amontoado de gente que não sabe nada de nada, mas também aqui cabem as exceções. No entanto, um país não pode viver de exceções, seja qual for o setor de sua vida. Antes de tudo, a cultura, na acepção mais correta da palavra, deixou de existir, passou a ser uma espécie de artigo supérfluo. Não pode ser assim. A cultura é a identidade de um país. Particularizando isso tudo na poesia, as cenas lamentáveis já fazem parte deste país sem memória nenhuma, que cultua somente a vulgaridade acima de tudo. Ao falar sobre o respeito que a poesia exige, falo como poeta que preferiu o caminho mais difícil da poesia, de escrever distante da leviandade que tomou conta de quase tudo. Não é fácil escrever um livro como “O tocador de flauta”, porque isso implica leitura de vários olhares e sentimentos, uma elaboração que significa muito trabalho.
Você falou em cenário lastimável…
Sim, a poesia brasileira representa um cenário lastimável, pelo menos no meu entender e ressaltando, sempre, as exceções. O Brasil tem grandes poetas. Poetas sérios. Mas o que vem ocorrendo atualmente é melancólico. E tudo amparado por uma mídia sem compromisso com nada. Quando digo que me transformei em um poeta português, muitos não levam a sério. Mas, no fundo, isso não tem significado nenhum. Portugal foi a alternativa para minha própria poesia. Não quero me envolver com o que vem ocorrendo atualmente neste país em quase todos os setores, não apenas na literatura. Acho que tenho esse direito pessoal. Por enquanto, ainda tenho. Então fui buscar na poesia de Portugal o que me faltava. E achei. Para os que não levaram isso a sério, convém lembrar que já são quase 15 anos que estou nesse percurso. E essa nova narrativa poética de meus poemas passou também para a prosa, caso da novela “Cartas de abril para Júlia”, na qual fui mais fundo do que podia imaginar.
No caso de “O tocador de flauta” o livro não seria até uma espécie de homenagem ao grande poeta português que você tanto admira, já que você utilizou nos poemas até versos de “O guardador de rebanhos”? Neste livro você não se ateve somente na linguagem da poesia portuguesa, na lírica portuguesa, mas foi além, porque declaradamente você seguiu o mestre. Seria assim?
O poeta e crítico Carlos Felipe Moisés fez essa menção de homenagem no prefácio. Escreveu ser uma mensagem comovida e comovente. Vejo nessa afirmação um elogio não a mim, mas à própria poesia. Carlos Felipe Moisés, que escreveu vários prefácios para livros meus em Portugal, diz também que o “O tocador de flauta” é um mergulho no mundo interior do pastor guardador de rebanhos ou no próprio interior de Caeiro. Isso é verdade. Um mergulho que tenta desvendar a poesia. Eu sequer sou poeta. Apenas almejo. Vou em busca da poesia pelas ruas de Portugal, dessa poesia que é o brilho da vida, da respiração. Vestido como um guardador de rebanho, tento viver nesses poemas um mundo que não existe. Mas a poesia vale por isso, desde que honesta em seu propósito de existir. Os caminhos do guardador de rebanhos são raros e também múltiplos. Às vezes, caminhos de pedras. Mas a poesia está na pedra. E é da pedra que se tira a poesia de “O tocador de flauta”, do chão, do ar, do invisível, mas tendo sempre por base a figura dessa poesia de Caeiro que é, para mim, o Fernando Pessoa que mais me toca. Apenas segui os passos do guardador de rebanhos, me deixei levar, colhendo as palavras dessa poesia necessária ao trabalho que decidi desenvolver.
Você pode escolher um poema de “O tocador de flauta” para reproduzir neste momento? Algum poema que lhe agrade especialmente?
O livro todo me agrada, até porque sei o que senti no trabalho que desenvolvi para chegar a esta linguagem, principalmente de, no caso, tratar-se de Fernando Pessoa. Não se trata de um livro que nasceu acidentalmente. Foi planejado, embora eu não goste de coisas muito planejadas. Eu quero dizer que foi escrito com o propósito específico de conversar com Alberto Caeiro. Vamos colocar então o primeiro poema do livro, o que já pode dar a idéia de todo seu conteúdo poético, nessa narrativa de um pastor de ovelhas e do poema ainda possível:
Pastoreio ovelhas brancas entre as pedras a subir montanhas
com um cajado na mão esquerda e sapatos antigos como as nuvens.
Falo com elas, as ovelhas, que me olham com olhos serenos
como se eu fosse um pastor, um poeta pastor de palavras.
Sou um pastor de ovelhas fora do meu tempo e da poesia que antes
havia,
conheço os atalhos destes caminhos
e quando me perco, elas, as ovelhas, me levam de volta à casa
onde adormecemos enquanto chove os temporais fora das janelas.
Pastor das ovelhas que me seguem, falo com elas histórias perdidas
ouvem com a atenção de um pássaro ou de uma planta
e comem as folhas do chão junto de mim
a aquecer-me os pés do frio das manhãs e do início da noite,
quando me levam para casa as ovelhas que pastoreio.
São décadas de dedicação ininterrupta à literatura com livros e também por meio do jornalismo cultural, trabalho que, aliás, é bastante reconhecido. Algum balanço a fazer?
O balanço está aí em mais de 50 livros, incluindo prosa também, romances, novelas, peças de teatro. Tenho para mim que cumpri o meu papel não cedendo nunca às facilidades de qualquer tempo. E nisso incluo meu trabalho como jornalista da área cultural. Antes de tudo, sempre fiz um jornalismo democrático. Absolutamente democrático. Abri suplementos até para desafetos declarados. E não fiz nada mais do que a minha obrigação. Na literatura brasileira o que não falta é desafeto. Acredito que cumpri o meu papel com honestidade comigo e com a literatura e com o jornalismo. O balanço fica por conta do tempo.
De onde a inclinação, ainda muito jovem, para as letras? Influências familiares? Recorda-se das primeiras e mais marcantes leituras?
A primeira leitura foi Augusto dos Anjos que encontrei no lixo de uma casa. Quando criança, eu era jardineiro e pegava restos das feiras livres para levar para casa. Augusto dos Anjos ficou marcado para sempre em mim. Cheguei a escrever uma peça de teatro sobre sua vida, que ficou vários meses em cartaz em São Paulo. A censura cortou as críticas que fiz ao comportamento de Olavo Bilac, que zombava de Augusto dos Anjos. Não entendi. Mas o censor, ao meu lado, assistindo a peça encenada só para ele, determinou o corte. O censor cortou também um discurso de Rui Barbosa que utilizei na peça. A ditadura censurava até Rui Barbosa. Quanto a Olavo Bilac, o que escrevi foi cortado porque o poeta parnasiano era autor do Hino à Bandeira e foi líder do movimento em favor do serviço militar obrigatório. Essas coisas que nem vale mais a pena lembrar. Logo depois de Augusto dos Anjos, consegui um livro de Álvares de Azevedo. Os dois poetas me envolveram completamente. O primeiro poema escrevi quando tinha 11 anos de idade. A influência familiar existiu também, pelos fados que meus pais, portugueses, ouviam no rádio. Isso também me tocava profundamente, aquela tristeza do fado, aqueles poemas que eu não compreendia bem, mas sentia. Lembro-me que, criança ainda, fazia outras letras para os fados que eu já conhecia de cor.
A carreira jornalística veio como decorrência da vocação para ser escritor ou foi ao contrário?
Não sei como explicar direito. A infância foi triste. Com 12 anos eu era um jardineiro e me orgulho muito disso. Depois, fui ser operário numa fábrica de canetas no bairro do Brooklin, em São Paulo. O próprio dono da fábrica percebeu que eu não servia para aquele trabalho, até porque era um menino franzino e não tinha sequer força para baixar a prensa com matéria plástica derretida. Ele mesmo me levou para ser contínuo no “Correio Paulistano”, um jornal que existia na rua Líbero Badaró, perto do Largo São Bento, onde entrei em contato com jornalistas e vários escritores que escreviam para o jornal. Minha função era nunca deixar os redatores sem papel, entregar carta, comprar lanches, essas coisas. Na primeira carta que fui entregar, acabei por me perder na cidade. Outra função era buscar a página da indústria no Serviço de Imprensa da FIESP, todos os dias, às 16 horas. Oito meses depois, o “Correio Paulistano” fechou. Então os jornalistas da FIESP me levaram para lá. Eu tinha pouco mais de 15 anos. Fui para o Serviço de Imprensa da FIESP para fazer o mesmo serviço. A seguir, a página da indústria passou as ser publicada no extinto “Diário de São Paulo”, dos Diários Associados. Todos os dias eu ia para o “Diário de S. Paulo” levar a página da indústria. E conheci, então, vários poetas, especialmente da Geração 45, que trabalhavam na redação. Com 17 anos eu já estava escrevendo notícias, depois de passar pelo cargo de datilógrafo. Alguns anos depois, comecei também a escrever para o “Diário de S. Paulo”, que me contratou. Passei a estudar à noite e a trabalhar até de madrugada. Minha formação é outra, mas sempre me dediquei ao jornalismo, especialmente opinativo. O jornalismo me ajudou, acredito, nos primeiros romances, como “O tribunal”, “O defunto – uma história brasileira”, “A faca no ventre”, “Autópsia”, no que diz respeito à linguagem. Nos Diários Associados virei cronista e editorialista. Foi uma carreira meteórica, já que com pouco mais de 25 anos passei a ocupar o cargo da secretaria-geral. Sempre escrevi matérias especiais, nas quais utilizava a literatura. Uma coisa servia à outra. Em contato com os poetas já idosos que trabalhavam no “Diário de S.Paulo”, fui entrando nesse mundo da literatura e da poesia especialmente, embora tivesse já um livro escrito na adolescência, “Noturno-maior”. Aprendi muito com eles.
Que momentos você destaca como mais significativos na trajetória jornalística? Como foi entrevistar Jorge Luis Borges?
A entrevista com Jorge Luis Borges é um dos trabalhos jornalísticos mais importantes na minha vida, feita em 1976, no apartamento do escritor argentino, na Calle Maipu, em Buenos Aires. Foram meses para marcar essa entrevista, em um tempo em que uma ligação telefônica para a Argentina demorava horas para sair. De tanto insistir, Borges concordou em me receber. O que eu pensava que seria uma entrevista de, no máximo, meia-hora, foi uma conversa de doze horas, em dois dias seguidos. Encontrei um homem destruído pela vida ou por ele mesmo, um Borges que eu nunca imaginara pudesse existir, com tanto rancor, ressentimento e, sobretudo, com uma solidão pavorosa. Fiz 17 fotografias de Borges sentado em sua poltrona preferida. Tomei chá com ele em duas tardes. Ele vivia com a mãe. Percorri todo o apartamento. Olhei os móveis antigos e pesados. Havia só uma cama de casal. Sua mãe tinha morrido alguns meses antes desse encontro. Guardei a entrevista por 25 anos, porque, na época, ela seria de bom proveito para a ditadura brasileira. Borges defendia com ardor a ditadura argentina, dizendo que os ditadores eram cavalheiros que salvariam seu país. E esse ardor se estendia à ditadura no Brasil. Mesmo cego, chegou a autografar-me um livro que se perdeu, talvez porque não tive com ele o cuidado que deveria ter. Saí desse encontro com Borges profundamente amargurado. Essa entrevista, com as fotos, virou livro em 2001, com o título “Borges – o mesmo e o outro”. Não fiz um livro de perguntas e respostas. Até porque não seria possível, porque Borges falou muito, juntando assuntos diversos. Escrevi, então, uma espécie de conto, uma narrativa mostrando Borges com suas palavras ásperas, sua angústia, seu ressentimento com tudo, um texto que dá bem o clima do que senti ao me despedir dele com um aperto de mão. O homem que eu deixei no sexto andar de um prédio em Buenos Aires tinha apenas o desejo de morrer e ser esquecido por todos.
As origens portuguesas de sua família foram decisivas para o reencontro com a tradição literária lusitana na fase madura de sua existência? A que atribui o fato de somente no final dos anos 90 ter sido dado um prêmio Nobel de literatura a um escritor de língua portuguesa?
Foram decisivas sim. Reencontrei Portugal da minha infância, dos meus pais, dos fados no rádio, no Terceiro Encontro Internacional de Poetas, na Universidade de Coimbra, em 1998, convidado pela ensaísta e professora Graça Capinha, que me conheceu em São Paulo. Fui apresentado a ela pelo jornalista Paulo de Tarso. Ela fazia um trabalho investigativo sobre identidade cultural, incluindo literatura e emigração. Em pouco tempo nos tornamos amigos. Nesse encontro de Coimbra, fui o poeta mais aplaudido por gente que não compreendia uma única palavra em português, mas pelo ritmo do poema, pela veemência do poema, pelo gesto do poema. Estou à vontade para falar assim porque o assunto foi descrito por Graça Capinha no prefácio de “20 poemas quase líricos e algumas canções para Coimbra”. Desde então, tem me acompanhado no trabalho que realizo em Portugal na área da poesia, fazendo sempre a apresentação de meus livros nos lançamentos. Nesse encontro em Coimbra senti essa tradição da literatura de Portugal, a que você se refere em sua pergunta. E senti, também, que era exatamente aquilo que eu procurava, aquela atmosfera poética que não encontrava mais no Brasil. Afinal, eu reencontrara minha própria existência, meu passado, minhas vidas passadas, minha reminiscência. Quanto a José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura de 1998, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente e conviver alguns momentos com ele, em Portugal e em São Paulo. Deu-me uma atenção inesperada. Fez questão de ter alguns de meus livros. Antes de tudo, o Nobel é um prêmio político. Mereceu ganhar, como mereceria Antonio Lobo Antunes. Gostava de falar com Saramago sobre as injustiças que se cometem em todo lugar. Era um escritor político, acima de tudo político. Eu gostava disso. E ainda em relação ao prêmio, foi uma injustiça que o Nobel não tenha sido concedido ao Jorge Amado, escritor do povo, de um país chamado Bahia, que faz parte do mapa do Brasil, de quem também desfrutei da amizade. Ele queria saber de onde vinha o “Faria” de meu nome, já que seu nome era Jorge Amado de Faria. Eu dizia que era de Portugal e ele sempre se referiu a Portugal, pelo menos falando comigo, como uma espécie de jardim do mundo.
Que leitura faz da literatura portuguesa contemporânea e da recepção da literatura brasileira em Portugal na atualidade? O Brasil continua num plano de destaque para os portugueses em tempos de globalização?
Leio muito alguns poetas atuais de Portugal, mas especialmente os que já se foram. Eu falo sempre em poesia séria. Dos grandes poetas portugueses. Não preciso citar nome de ninguém. A gente sabe o que é um poeta sério logo no primeiro verso que lê. A poesia de Portugal me agrada em tudo. Mas não vivo em Portugal, não sei como se desenvolve a tal “política literária” que tomou conta das plagas brasileiras. Quanto ao destaque do Brasil, eu tomo a liberdade de lhe devolver a pergunta: Que destaque?
A que atribui o interesse cada vez maior por sua obra em Portugal?
Não atribuo a nada. Também não sei se existe algum interesse. Tenho lá somente 19 leitores, contando os da minha família, que vivem lá.
Como você vê a omissão da mídia em relação a muitos de nossos bons escritores e o fim da velha tradição de nossos suplementos literários?
Trata-se de algo criminoso, de gente inconsequente e irresponsável que ocupa cargos na imprensa do país, especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Um verdadeiro bando que se apoderou da imprensa e da universidade. O Brasil já contou, sim, com suplementos literários de absoluta qualidade. Isso hoje não existe mais. Hoje é uma coisa de turma, nada além disso. A omissão a grandes escritores é coisa de gente fascista. Eles são fascistas. O jornalismo cultural no Brasil não é equivocado. Não. Ele usa de má fé mesmo, invertendo valores e inventando nomes que desaparecem da noite para o dia. Nem vale a pena falar nisso.
As políticas da atual gestão do Ministério da Cultura demonstram algum avanço ou continuamos no mesmo lugar em que estávamos, sem democratizar verdadeiramente a cultura às massas?
Desculpe-me, mas não dá para responder a essa pergunta, porque faz dez anos que o Brasil não tem ministro da Cultura.
Novos projetos de livros? O intercâmbio com Portugal deve dar novos frutos?
As coisas vão acontecendo. Quem sabe faz acontecer. Os livros sempre serão projetos, enquanto houver vida a ser vivida. Do intercâmbio em Portugal espero sim novos frutos. Como este agora “O tocador de flauta”, a exemplo de todos os outros livros. Cada momento é um momento. Quando escrevi “Inês”, achava que nunca mais conseguiria aquela linguagem da lírica de Portugal. Mas sempre há algo por acontecer. Como é o caso de “O tocador de flauta”, em que converso com Caeiro a andar em um campo, a falar das coisas e a deixar que as coisas falem por nós. O importante é viver esse momento com toda a intensidade da vida. Buscar a lírica de Portugal foi o que de melhor fiz por minha poesia até hoje. É preciso sempre lembrar que eu sou um romântico do século 18. Acho que vivo do passado. Eu prefiro que seja assim. O presente não me interessa, pelo menos o que está aí na minha cara, no que se refere ao meu país. Já o futuro eu não sei. Também não estou interessado em saber.
————-
Angelo Mendes Corrêa é professor universitário. Mestre em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo (USP).
